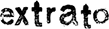Eudes Mota e Ricardo Aprígio: Das Sagradas Invasões Mundanas
Marcelo Coutinho
1. Dos Círculos Imóveis
Após muito andar, pode-se cair exausto de cansaço. Pode haver regozijo neste tipo de queda. Pode haver prazer, mesmo que mórbido, em sucumbir à exaustão, se deixar sepultar por si mesmo, no fundo de si mesmo. Estranho prazer esse de finalmente ceder, abandonar-se, naufragar em si mesmo e não mais oferecer qualquer resistência.
Grega melancolia. Melagcholía: mélas, "negro"; cholé, "bílis". A “Bílis Negra” de Hipócrates e de Aristóteles é um dos humores que compõem a alma. E seus vapores, quando predominam na mistura de humores que forjam a anima, acabam por criar prostração, fastio e insociabilidade. A cama é o símbolo desde a Grécia antiga para esse sono doente. A melancolia gera, portanto, uma clausura. Passa-se a ser cárcere e carcereiro de si. Na paralisia do desejo, sucumbe o devir. Nada mais advêm. Suspendendo todo fora, aquele que sucumbe sepultado em si, quer assegurar-se de que, assim, protegido do devir, fora do tempo, se manterá na eternidade da identidade, idem a si mesmo.
A arte, após muito andar, pode cair exausta de cansaço. E aqui também pode haver regozijo e prazer. A arte pode servir de cárcere e carcereiro para si mesma. Pode ser um esforço inútil de supressão do devir e de apagamento do seu fora. É estranho e mesmo assustador esse prazer de anular a existência de um fora de si. Haveria de se pensar que na recusa de um fora de si, haveria uma mortífera e fatal vaidade. “O mundo não é digno de mim”, “o lado de fora nada me oferece”: bem podem ser essas algumas das falas da melancolia. Não estando o mundo à altura do melancólico, nada mais resta do que a sua anulação, o alijamento desse paupérrimo lado de fora.
Tal qual um Narciso afogado, a arte pode se deixar seduzir por si mesma, e sem que se dê conta pode passar a ter como tema suas próprias formas e sua própria história que, como tais, já estão instituídas e por isso nada mais oferecem de vigor. Não há um fora de si para o instituído. Tampouco há um lado de fora para as instituições, sejam elas quais forem. O instituído e suas instituições são expressão do desejo melancólico de suprimir aquilo que diverge. Nelas não haverá um espaço para o que difere. Pois a diferença é, por natureza, o destituído e a própria destituição.
Sem um fora de si, a arte abre mão de sua força irruptiva, de sua potência de destituição, e passa a visar tão somente o “artístico”. O “artístico” é precisamente o cárcere que a arte, em sua melancolia narcísica cria para si. Neste cárcere, nada mais é fuga, produção de desvio e colapso. O “artístico” da arte, este cárcere, seria uma figura de autoridade que é necessário se livrar, se extirpar, para que uma outra língua ou outra imagem do mundo sejam fundadas.
Porém, quando rompe tal imobilidade circular, a arte é a reconstrução de uma situação inaugural de encontro com o mundo. A arte surge como um exercício perene de retorno ao ato adâmico de batizar a criação. Ela é uma das formas de cultivo da verdade. Porém, aqui trata-se de uma outra verdade. Trata-se de des-esquecimento: a alethéia grega. E, consequentemente, torna-se uma forma de nos livrarmos temporariamente da doxa, ou seja, daquilo que o mundo já disse e se mantem inconscientemente dizendo, repetidamente, sobre o próprio mundo.
Se, por um segundo que fosse, nos despíssemos das vestes da linguagem, quem sabe veríamos que a mulher que treme embaixo de nossos corpos não é uma mulher, mas outro continente. Sentir profundamente o cheiro que exala deste outro continente talvez abra algo virginal, como se abriu para Lygia Clark. Para ela, aquele falo que a penetrava não era do homem. Era extensão de seu próprio corpo que, no outro, a permitia copular consigo mesma. Quem sabe, distantes daquilo que o mundo disse sobre o mundo, assim, desnudos como Lygia, mesmo que por um breve segundo, uma criança em nós poderia chorar de pavor, o sentido do tempo poderia sumir e, num minuto, perceberíamos o passar vago dos séculos [2].
2. Da Conclamação do Mundo
A força inaugural das vanguardas históricas ainda vibra. Mesmo que a melancolia pós-moderna tenha procurado a todo custo drenar seu vigor, transformando sua força a-gramatical, seu vigor entrópico de desmanche dos sistemas simbólicos em produto. Mesmo que tenha procurado reduzir a arte ao seu cárcere artístico, há de se pensar que, apesar de tudo, o miolo das vanguardas escapou. Seu miolo é o apagamento da fronteira entre a arte e a vida.
Desta época ainda vibram, fortes e implacáveis, fragmentos de vida, encapsulados em obras e gestos. Deambulações pela cidade, bêbadas ou sóbrias, lutas de boxe ou travessias suicidas feitas em um bote através do Golfo do México[3]. Poderíamos pensar que tais obras seriam recordações de viagem, cartões postais ou souvenires a partir dos quais podemos voltar a ver o mundo. Obras como “O Ar de Paris”, ar seqüestrado em uma ampola de vidro; o esperma derramado em uma pequena tela dada de presente a uma intangível amante brasileira; Etant Donés, segredo guardado, obra tramada por anos que desmente a abstinência e o silêncio auto-imposto de Marcel Duchamp, o artista celibatário e o telegrama enviado por ele ao amigo Picabia que morria, cujo texto dizia: “Caro Francis, até logo” [4].
O que sobrou das vanguardas históricas foi a vida que, invadida, surgia e se enramava por entre o labor cuidadoso de uma obra. Por entre estas obras, surge um clamor, uma conclamação. Elas indicavam uma aproximação entre arte e vida de uma forma que Duchamp provavelmente não previu.
O que se vê ali nunca foi a morte da arte ou a dissolução total da obra como Alan Kaprow e tantos outros preconizaram. O que se vê ali é seu renascimento para além da própria arte. O ready-made duchampiano e suas extensões na forma de um conceito como “infraleve”, definitivamente não promoveram qualquer “desestetização” ou “antiarte” como sugeriam críticos como Harold Rosemberg ou Allen Leepa [5].
Este renascimento para mim é uma espécie de poder de transubstanciação. Um par de botas não é mais um par de botas. Uma pedra não é mais uma pedra. Uma mão que segura outra mão para logo mais largá-la não é mais um mero cumprimento cordial. Um copo que vibrava sobre uma mesa ao passar um carro na rua deixa de ser um tremor trivial. Um cão morto não está mais morto. Uma qualidade invisível, imanente às coisas, passa a se mostrar. E dali, daquele surpreendente vigor que tudo lentamente assume, é possível ver uma espécie de tensão dramática que vai muito além da arte.
3. Da Geometria Rachada
O que Eudes Mota vem construindo, ao passo lento e concentrado de várias décadas, é um peculiar desvio do projeto construtivo. Projeto este do qual ele foi herdeiro direto, junto com grande parte dos artistas brasileiros dos anos 50 e 60 do século XX.
Sabemos do ambicioso programa deste projeto. Foi o construtivismo que radicalmente preconizou uma arte despida de subjetividade e um repertório visual reduzido à princípios universais. A forma pura, universal e autorreferente queria promover o eclipse do mundo. Definiu o homem, suas cidades, suas casas e a sua arte como sendo o oposto negativo da natureza e dela, da natureza, teceu uma imagem verdadeiramente aversiva. O mundo, para o projeto construtivo deveria ficar do lado de fora.
Em seu princípio a saga das formas abstratas evocava certo êxtase, certa elevação sensorial, emoção pura advinda tão somente das relações entre volumes, planos, linhas e cores. A música era, aliás, modelo desta autonomia da forma e obsolescência do mundo externo. Havia certamente neste princípio algo de místico e transcendente. Não à toa Piet Mondrian possuía uma prática esotérica ligada às idéias de M. H. J. Schoenmaerkers e à Sociedade Teosófica Holandesa. Também não será por coincidência que o minimalismo, herdeiro direto deste desejo tautológico da forma pura, tanto nas artes plásticas quanto na música, construirá formas ou pequenas células melódicas que se repetem de maneira seriada e circular. Os espaços construídos de Donald Judd e Robert Smithson, ou a música de Steve Reich e Phillip Glass, evocam, inevitavelmente, as ondulações de um mantra e a imposição de um vazio místico.
Porém, há décadas Eudes Mota dinamita os trilhos desta nobre tradição. E faz descarrilhar este pesado trem. Ele manterá o suporte quadrado restrito à parede, espaço este que a cultura ocidental construiu e destinou ao próprio ato de ver e à profundidade sensível deste olhar. Se Eudes mantém esta janela esguia - espaço restante para uma visualidade profunda - ela surgirá, queira-se ou não, como ironia e reflexão metalinguística.
Neste espaço não será exibida quaisquer transcendentais. Tampouco será uma extática fruição promovida pelos universais geométricos da forma pura. O que Eudes Mota promove será, antes, a exibição de uma queda. Uma queda no mundo e no mundano.
Eudes prioriza a apropriação cuidadosa de relações geométricas presentes nas formas que nos cercam e que compõem o sistema de imagens contemporâneo. Todos são, aliás, ícones da cultura de massa. Um dia foram códigos de barra que, através de Eudes, tornaram-se lápides e réquiem para os grandes nomes da história da arte que dedicaram suas vidas ao delirante racionalismo concreto geométrico. Em outro momento foram palavras cruzadas e tablados de tiro ao alvo, cubos mágicos e páginas de classificados dos jornais pernambucanos. Em todos estes casos o trem não anda nos trilhos, o desastre é iminente e o espólio da herança construtiva é queimado. Em todos eles a banalidade do mundo se apresenta livrando a imagem geométrica de sua clausura autorreferente.
4. Dos Dispositivos de Desesquecimento
Há entre o hay kay, o ready-made, a fotografia e o filme um fio de prata que os une em um coeso deslizar. Todos surgem como continentes para o ar que move a respiração de quem reza ou cochila. Todos surgem como pequena porção de uma vastidão incontida que, conclamada a habitar o espaço exíguo da palavra, da imagem ou da coisa, mostra-se como aquilo cuja natureza é o que excede.
Percebe-se que em um hay kay habita uma vastidão incabível. Assim como numa fotografia pode habitar “um clarão de verdade no real”, como diz Robert Bresson [6]. Bresson refere-se a uma verdade que pouco pode interessar às urgências inúteis do mundo contemporâneo. E o melhor exemplo desta verdade que às vezes pode ser surpreendida na superfície anódina do real é a fotografia “Winter Sunrise”, de Ansel Adams, retirada em 1944 em Sierra Nevada, EUA.
Após uma espera de quatro dias no campo, o fotógrafo encontra uma luz clara que vaza por entre as nuvens que recobrem a escuridão mineral da cordilheira. Neste momento, um cavalo surge desavisadamente no pasto e oferece seu perfil à câmara. Diz Adams: “algumas vezes acho que vou para lugares exatamente quando Deus precisa de alguém para acionar o obturador” [7].
É bem esta operação que se deixa ver na obra de Ricardo Aprigio. A entrada da vida, a captura de um fragmento de verdade que, ao ser pinçado, parece despir a vida de sua banalidade e revesti-la de vasta majestade.
As fotografias de Ricardo Aprígio seguem este mesmo princípio e servem como força de desocultamento de uma presença. A presença forte da condição efêmera que constitui a nós e a todos os nossos ambientes é desocultada em uma série de fotografias cujo título é “aura”.
A série “Aura” sequestra paredes brancas nas quais se vê as marcas igualmente brancas deixadas por quadros que um dia ali foram fixados. O branco sobre branco indica um apagamento, o sumiço de um ambiente que um dia animou, emprestou seiva àquele ambiente.
Diz o hay-kay de Issa:
"Vou sair
Divirtam-se fazendo amor
Moscas da minha casa."
E em paralelo ao que anima o hay kay de Issa está o “infraleve” de Marcel Duchamp. Infraleve, este ready made imaterial, pode ser o mero roçar do tecido de uma calça na perna daquele que a veste. Ou “o calor de um assento que se acaba de deixar” [8].
As sombras projetadas no chão tão pisado das ruas constrói aquilo que Ricardo chama de “geometrias efêmeras”. Esta série de fotografias são seus “infraleves” que nos fazem sentir a presença do vento que tudo carrega. Desde a série “Das Calçadas de Olinda”, esta fotografia tridimensional, série de moldes feitos do chão (concebidos em parceria com seu irmão Frederico), o que fez Ricardo Aprigio foi a construir esse continente onde pedaços do mundo possam restar. O quadrado do molde-tela, a captura do instante fotográfico, o sequestro do instante póético nos hay kays que Ricardo vez por outra publica: trata-se de dispositivos de desesquecimento.
Se a arte persiste será pelo fato de ela ser este dispositivo. É possível ver nestas operações de apropriação, nestes ready-made e infraleves, de Eudes e Ricardo uma espécie de resgate de uma lógica pré-moderna.
Quero dizer que é possível vislumbrar em suas obras a voz do antropólogo Mircea Eliade: toda cultura humana constrói “descontinuidades” no espaço e no tempo. A descontinuidade do espaço e do tempo seria a passagem do caos para o cosmos, do profano para o sagrado. Em poucas palavras, a passagem do não-sentido para o sentido [9].
Agora surgem por Eudes e Ricardo estas linhas sobrepostas dos moldes de corte e costura. Mistura de carta celeste ou de cartografia marítima ilegíveis, de planta caótica de vias urbanas, as linhas aqui enquadradas no quadrado de uma tela ou mesmo impressas no próprio tecido encontram solo na imanência da atividade pouco visível e valorizada de costureiros e costureiras.
É certo que o mundo tende a cochilar e é arrebatado num sono profundo, num cataléptico adormecimento, quando se deixa levar e conduzir pelo que já se disse sobre o mundo. Como disse, o adormecimento melancólico ao qual docemente nos submetemos, nos torna cegos para toda a pujança rebentadora que o mundo está oferecendo, com sua face estrangeira, a todo o momento. Ele sempre ofereceu sua face desconhecida. Está oferecendo agora mesmo. Neste instante. Não é natural que as rodas rodem, que o solo segure sobre si todo esse peso. Não é natural que os olhos se cruzem e busquem entre si algum porto. Ver após tanto tempo e persistência os caminhos tomados pelas obras de Eudes Mota e Ricardo Aprígio é uma forma delicada de desadormecer.
(Ensaio escrito para a exposição "Sem Modos", da dupla de artistas Eudes Mota e Ricado Aprigio, na Galeria Plural, Recife, PE, 2016.)
[1] Marcelo Coutinho é artista e professor do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da UFPE/UFPB.
[2] Lygia Clark em um de seus relatos descreve “a consciência de que o entregar-se no fazer amor não existe, mas sim uma apropriação do pênis como parte integrante do meu corpo, o sentir-me através do outro como se copulasse comigo própria”. E mais adiante descreve: “O tempo continua elástico, enorme, num minuto tenho a percepção de séculos. Dentro de mim uma criança chora de pavor“. (CLARK, Lygia. Lygia Clark. Textos de Lygia Clark, Ferreira Gullar e Mário Pedrosa. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1980)
[3] Refiro-me aos artistas e escritores dadaístas e surrealistas Marcel Duchamp, Arthur Cravan, André Breton entre tantos outros que dissolveram a noção de obra na imaterialidade de gestos e ativismo político.
[4] CABANE, Pierre. Marcel Duchamp: O Engenheiro do Tempo Perdido. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1987. p. 149.
[5] Refiro-me aos ensaios “Desestetização” de Harold Rosemberg e “Antiarte e Crítica” de Allen Leepa, entre outros, presentes no livro “A Nova Arte” organizado por Gregory Battcock. (BATTCOCK, Gregory. A Nova Arte. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1975)
[6] BRESSON, Robert. apud. Jacques Aumont. A Teoria dos Cineastas. Ed. Papirus. Campinas. p. 17.
[7] ADAMS, Ansel. apud. Ana Elyzabeth Araujo Farache. Fotografia e Contemplação: Amorosidade do Olhar no Contemporâneo. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em Comunicação, UFPE. Recife, 2013. p.70
[8] Diz Duchamp: “Le chaleur d´un siège (qui vient / d´être quitté) est infra-mance”. DUCHAMP, Marcel. Notas. Madrid: Editorial Tecnos, 1989. p.20.
[9] Esta ruptura no espaço é o que faz com que certa parte de uma dada paisagem seja tida como especial, diferenciada. É o caso de certas montanhas ou elevações que passam a ser sagradas para certos povos ou da arquitetura dos templos das casas. O tempo também é rompido e nele é imposta uma descontinuidade. As festas de colheita, o nascimento e a morte, o orgasmo, a refeição, dentro de uma lógica sagrada pré-moderna, são bem mais que, trabalho, procriação e definhamento, sexo e alimentação. Pois cada uma destas ações está dentro de uma temporalidade descontínua, e portanto, são sagradas. Ou ainda as peregrinações, que para além de serem meros deslocamentos ou viagens, são uma ação sagrada onde tempo e espaço se mesclam. (ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano. Lisboa: Livros do Brasil, s/d)